quinta-feira, 28 de abril de 2022
quarta-feira, 27 de abril de 2022
Lilith (1964) de Robert Rossen
por António Cruz Mendes
O que quer dizer HIARA PIRLU RESH KAVANI? Nunca saberemos. Lilith criou a sua própria linguagem, a linguagem de um mundo que só a si pertence. Criou-o para se proteger e para proteger os outros, porque Lilith, como Deus, queria amar a todos, mas o seu amor leva à morte aqueles de quem gosta. Responsabiliza-se pela morte do irmão, que a amava e lhe oferecia presentes, e vive desde os 18 anos reclusa no seu mundo-quarto-caverna donde quase nunca sai. Até que, da sua janela protegida por uma rede, observa a chegada de Vincent que a convida a participar num pic-nic.
Chove torrencialmente. Um grupo de pacientes tenta abrigar-se debaixo de uma árvore. Vincent procura Lilith e Steven que se afastaram e encontra-os à beira de um rio de águas revoltas. Os dois jovens parecem fascinados pela beleza da rapariga que as desenha convulsivamente. Steven está apaixonado. Ela é a única razão de ser da sua existência. Suicidar-se-á quando se julgou rejeitado.
Lilith olha, absorta, a corrente de água tumultuosa que corre aos seus pés. A montagem intercala uma sucessão de imagens dos três, dos seus olhares que se cruzam, com as do rio indomado, numa vertigem que nos arrasta para as belas e ameaçadoras profundezas daquela torrente. Lilith atirou-lhes o pincel e Steven arrisca-se perigosamente pelos rochedos para o tentar recuperar.
Nas imagens da sequência do pic-nic, condensa-se o tema do filme de Robert Rossen, Lilith e o seu Destino. Quem viu o Esplendor na relva, o filme da última sessão do cineclube recordar-se-á daquele outro rio de águas selvagens, onde Bud e Juanita saciam o seu desejo e onde Leslie tenta afogar a sua paixão.
A tentativa de suicídio de Leslie condu-la a um hospital psiquiátrico e também é aí que se encontra internada Lilith, diagnosticada como esquizofrénica. O amor torna-se numa doença quando transgride as normas que são socialmente aceitáveis.
Em Lilith, o rio está sempre presente. Na sua cena de amor com Vincent, à imagem dos seus corpos, sobrepõe-se a dos reflexos do sol sobre a sua superfície; nele, se vê a imagem distorcida dos rostos de Lilith e da paciente com quem se vai unir num celeiro; e é nele que Lilith vê sua imagem reflectida, imagem que desaparece quando se debruça para a beijar. Destruímos sempre o que amamos.
Na história do cinema, não faltam exemplos de “mulheres fatais”, seres sedutores que, como as sereias da Odisseia, arrastam os homens para a perdição. Lilith é um nome com ressonâncias bíblicas que sublinham essa ideia. Mas, será esse o caso da Lilith de Robert Rossen?
Vincent é um jovem errante e vulnerável que, desmobilizado depois da guerra da Coreia, procura um rumo para a sua vida. O que é que o terá levado a procurar trabalho num hospital psiquiátrico? Até que ponto as evidentes parecenças de Lilith com a sua mãe explicam a sua paixão? Quem é a aranha esquizofrénica, autora da teia perturbadoramente assimétrica que se vai tecendo diante de nós?
Foram os doentios ciúmes de Vincent que levaram Steven ao suicídio, replicando a morte do irmão de Lilith, e destruíram o frágil equilíbrio do mundo que ela construiu para si própria. Por onde passa, afinal, a fronteira que separa a sanidade mental da loucura?
sexta-feira, 22 de abril de 2022
Splendor in the Grass (1961) de Elia Kazan
por José Amaro
Este é o filme que inspirou o título do nosso ciclo de cinema deste mês de abril, “O clamor do sexo”. Foi este o nome que o Brasil, muito apropriadamente, deu a Esplendor na Relva.
É uma das histórias de amor mais bem passadas para o cinema do que decorre um dos filmes mais belos de sempre. Sendo assim, ou mais ou menos assim, como foi possível uma tão má receção por parte do público, dos públicos já que esta receção aconteceu em todo o lado? O que é mais estranho é o facto da própria crítica o ter recebido mal.
A beleza deste filme, para além da magnífica interpretação de Natalie Wood (Deanie) e do estreante Warren Beatty (Bud), arrisco dizer que ninguém como eles nos poderia representar as grandes questões que a dupla Elia Kazan, o realizador e William Inge, argumentista, nos trazem neste Esplendor na Relva.
Estas questões, interligadíssimas, têm a ver com obediência castradoramente opressiva, aos pais (à mãe de Deanie e ao pai de Bud), que lhes dificulta, irreparavelmente, uma passagem normal à idade adulta. São estas questões centrais que declinam na mais importante de todas e que se pode traduzir numa privação de uma vida, a perda de algo inestimável. A perda de um primeiro amor que será primeiro e último.
O caminho percorrido por ambos, Deanie e Bud, é um caminho tortuoso, pois percorre-se entre a obediência e a luta pela desobediência. Para qual deles o mais difícil já que o pai de Bud oprime pela ambição de fazer do filho um vencedor no mundo dos negócios, filho que quer apenas ter um rancho onde possa ser agricultor e ter uma vida normal. Para Deanie, que apenas quer ser feliz já e para sempre.
É evidente que, para ambos, a forma de ultrapassar as suas dificuldades obriga-os a ultrapassar o quadro mental dos pais, tão coarctadores que são através de uma desmesurada exigência, para quem só há dois tipos de mulheres, as puras e as outras.
Bud e a Deanie não conseguem dizer um ao outro as tantas coisas que querem dizer. Eles vão calando tudo deixando-se corroer pelos silêncios devidos à opressão dos pais. Mas é esse calar que nos faz entender tudo o que querem dizer. Digamos que nos dizem tudo com este inconseguimento em expressarem-se. É ao fazê-lo que ambos dão ao filme momentos de enorme beleza.
Mas, voltemos ao início,
What though the radianceApesar de a luminosidadewhich was once so brightoutrora tão brilhanteBe now for ever taken from my sight,Estar agora para sempre afastada do meu olhar,Though nothing can bring back the hourAinda que nada possa devolver o momentoOf splendour in the grass,Do esplendor na relva,of glory in the flower,da glória na flor,We will grieve not, rather findNão nos lamentaremos, inspiradosStrength in what remains behind;no que fica para trás;In the primal sympathyNa empatia primordialWhich having been must ever be;que tendo sido sempre será;In the soothing thoughts that springNos suaves pensamentos que nascemOut of human suffering;do sofrimento humano;In the faith that looks through death,Na fé que supera a morte,In years that bring the philosophic mind.Nos tempos que anunciam o espírito filosófico.(tradução de Catarina Belo)
...porque o início foi este poema de William Wordsworth ao inspirar Elia Kazan para o filme com o mesmo título: Splendor in the Grass. Chegado aqui, não resisto, porque não sei dizer melhor, a transcrever um trecho da folha da Cinemateca, escrita pelo fabuloso João Bénard da Costa:
“Numa aula (aquelas aulas em que Natalie Wood entra sempre com três livros apertados ao peito, um deles de capa azul), o tema em vez de ser, dessa vez, o dos Cavaleiros da Távola Redonda, é Wordsworth e a “Ode of Intimation to Immortality”. Quando Natalie Wood entra na aula, de vestido grenat muito escuro, e gola de rendas, já todas sabem - e ela também, embora ninguém lho tenha dito - o que se passou entre Bud e Juanita. E é quando todo o mundo vacila à roda dela que a professora a interpela para lhe perguntar o que é que o poeta quer dizer com os versos famosos: “No, nothing can bring back the hour/ the splendor in the grass, the glory in the flower”. Para a estúpida e pedagógica pergunta não há resposta, ou - a esse nível - só há a que Natalie Wood comoventemente tenta articular. Mas não é nada disso que conta, não é nada disso que o poeta quis dizer.
O que conta, o que o poeta quis dizer, é aquele espantoso travelling que põe Deannie diante da professora, depois o outro que nos atira com uma porta na cara e, por fim, o plano em que a vemos, sozinha, na profundidade de campo do corredor, até ir parar à enfermaria: Nesse minuto de cinema sabemos, para além das palavras, que “that radiance that was once so bright / Is now forever taken from my sight”. Essa radiance que existiu entre o plano inicial (a primeira visão da catarata, “I’m afraid, oh Bud”) até essa outra sequência da catarata, já sem ela, quando Bud saciou no corpo de outra o desejo de que essas cataratas são a mais poderosas das metáforas. O splendor in the grass é o que vimos até essa aula”
Também é verdade que o filme, embora da década de 1960, reporta ao final da década de 1920, quando tudo, petróleo, Bolsa de Valores, Indústria etc, só tinha um caminho, o caminho do crescimento. Mas, para a economia de interesses desta folha de sala, nada disto me importa, o que importa é o Clamor do sexo, que os castradores pais “proibiram” levando os filhos a uma perda de algo extremamente valioso ...uma vida de felicidade que, como é confessado por ambos (Deanie e Bud) no último diálogo do filme: eles já não pensam nessa coisa da felicidade...vão apenas viver.
Mas foi ou não a vida que lhes roubaram?
quarta-feira, 13 de abril de 2022
Black Narcissus (1947) de Michael Powell & Emeric Pressburger
por Alexandra Barros
Black Narcissus é um filme de abismos. Os visíveis são os magníficos precipícios que cercam Mopu, uma aldeia indiana localizada numa região remota e de enorme beleza natural dos Himalaias. Esta paisagem é o centro duma espiral dramática que se desenvolve à medida que outros abismos se vão revelando.
Cinco freiras anglicanas são incumbidas de transformar um palácio abandonado de Mopu num convento. Clodagh, apesar da sua juventude e impreparação é escolhida para liderar o grupo. O palácio foi em tempos habitado pelo harém do pai do general indiano Toda Rai e é conhecido como Casa das Mulheres. Desses tempos permanecem os frescos eróticos hindus pintados nas paredes. De acordo com a vontade do general, o convento deverá prestar serviços educativos e de saúde à comunidade local. Estes serviços, no entanto, não interessam à população, cujos hábitos culturais chocam com os que as freiras pretendem impor. Esta distância entre as religiosas e a população irá aprofundar-se e uma tragédia transformá-la-á, no final, num abismo intransponível.
Inicialmente, para garantir o sucesso do projecto, as pessoas são pagas pelo general para receber a educação e os cuidados médicos que não desejam e o convento enche-se diariamente de gente. Quem está verdadeiramente interessado na instrução das freiras é o filho do general, Dilip Rai, um “pavão” vaidoso, mas educado, gentil e sensível. Para agradar ao general, as freiras aceitam-no como aluno, apesar desta presença masculina no interior do convento não ser vista com bons olhos. Kanchi, uma rapariga sedutora e irreverente, também é acolhida pelas freiras para ser por elas “domesticada”. O visitante do convento mais desconcertante, no entanto, é Mr. Dean, um inglês que representa o general e que foi por ele encarregado de ajudar as freiras no que for necessário. As freiras tentam adaptar-se à sua nova casa e ultrapassar as dificuldades inerentes à vida num país do qual desconhecem a língua e cultura. Porém as intensas impressões sensoriais provocadas pelo ambiente e pessoas que as cercam impedem que a paz espiritual se instaure no convento. Mr. Dean é especialmente perturbador, despertando paixões, ciúme, desejo e por fim, loucura. Mas a própria paisagem, majestosa e estonteante, afecta a racionalidade e autocontrole das freiras. Inebriada pela beleza circundante, Philippa semeou flores em vez dos vegetais comestíveis que estavam
planeados. A cena em que Philippa é confrontada com a sua irresponsável acção condensa a essência do filme, pelo que não espantaria que Black Narcissus fosse alguma espécie de flor germinada na horta sabotada. Na verdade, Black Narcissus é o nome do perfume usado por Dilip Rai. O seu aroma delicia tanto Kanchi como as freiras e constitui mais um apelo aos seus já sobre-estimulados sentidos. A conversão da Casa das Mulheres num convento parece assombrada pela encarnação anterior do palácio e por espíritos de natureza bem terrena.
Tal como a paisagem, todo o filme é exuberante, com uma paleta de cores vibrante e com forte carácter simbólico. No guarda-roupa, aos hábitos religiosos de cores neutras contrapõe-se o colorido vestuário indiano, particularmente os exóticos trajes de Dilip e Kanchi. No final, o vermelho do vestido e dos lábios de Ruth espalha-se pelo ar como um veneno até ser engolido por um vertiginoso (e literal) abismo[1].
Filmado em Technicolor, e muito elogiado pela sua fotografia, Black Narcissus é considerado o visualmente mais belo filme de Michael Powell e Emeric Pressburger. São deslumbrantes: a cor e o brilho, a apurada escolha de perspectivas e a cuidada composição das imagens. Embora possa parecer ter sido filmado in loco, foi rodado em estúdio. Michael Powell disse, a propósito: “As nossas montanhas foram pintadas em vidro. Decidimos fazer tudo no estúdio para conseguir controlar totalmente a cor. Por vezes, num filme, o tema ou a cor são mais importantes do que o enredo.”
O enredo de Black Narcissus é bastante bizarro, mas o enredo é sobretudo um pretexto. Importante é o grande tema do filme: o incontrolável poder das forças naturais que se impõem à razão através dos sentidos. Esse poder encantatório do ambiente é um dos elementos dramáticos da narrativa e é determinante no curso dos acontecimentos. "Não pude impedir o vento de soprar, o ar de ser límpido como cristal, não consegui esconder a montanha." - admite Clodagh.
Num filme pintado de modo tão vibrante, paradoxalmente, o preto é a única cor presente no título - uma (não-)cor, que absorve todas as cores e não reflecte nenhuma[2]. A escuridão em Black Narcissus é como a misteriosa matéria-energia escura do universo. Não se vê, embora se estime que constitua mais de 90% do conteúdo total de massa-energia do universo. O que levou Clodagh, Philippa, Briony, Honey e Ruth a procurar a luz divina terá sido essa infecção invisível de que fala Leonard Cohen - the darkness[3]. Mas a luz do “ar límpido como cristal” que encontraram em Mopu levou-as afinal ao encontro da escuridão. Neste excêntrico psico-drama erótico centrado em abismos, o negro, no fundo, é a mais intensa cor.
[1] Alguns críticos, entre os quais João Bénard da Costa, apontaram relações entre Vertigo, de Alfred Hitchcock, e Black Narcissus, entre as quais constam as enlouquecedoras/enlouquecidas metamorfoses de Judy/Madeleine e da Irmã Ruth, assim como os diversos elementos comuns: freiras/monjas, convento/capela, sinos, alturas, suspense, quedas, ...
[2] As superfícies negras absorvem os comprimentos de onda de todas as cores.
[3]Na canção “Darkness”, do álbum “Old Ideas”.
quinta-feira, 7 de abril de 2022
Duel in the Sun (1946) de King Vidor
por João Palhares
Se há coisa que os clássicos nos ensinaram e continuam a ensinar, esquecendo por momentos as duas maiores definições da expressão e do conceito[1], e reduzindo-os no tempo aos anos 40 e 50 e no espaço à fábrica de sonhos de Hollywood, é a não temer os excessos. O melodrama e o descomedimento. A hipérbole e o paroxismo. E há poucos filmes que exemplifiquem e encarnem melhor isso do que os de King Wallis Vidor[2]. E há poucos filmes que exemplifiquem e encarnem melhor isso do que Duelo ao Sol. Foram pelo menos sete os realizadores que passaram pela rodagem deste filme, despedidos e contratados pelo nunca satisfeito David O. Selznick, produtor americano que se apaixonou perdidamente pela talentosíssima actriz Jennifer Jones, nos anos 40, e passou parte da vida a oferecer-lhe filmes e produções como prova do seu amor. A grandiloquência de Duelo ao Sol sente-se logo de início, com um genérico em fundo amarelo e letras pretas e vermelhas empurradas pela marcha imperial de Dimitri Tiomkin[3], como um rio revolto e fértil que não se deixa secar pelo astro rei. Os choques cromáticos e formais continuam e acumulam-se enquanto assistimos ao amadurecimento e à auto-descoberta da Pearl Chavez de Jones, mulher nunca ajustada com as suas pulsões e os seus desejos e se vê dividida entre a atracção por dois irmãos, Jesse e Lewt McCanles. O primeiro incute-lhe valores como a justiça e a bondade e estimula-a mentalmente, o segundo é uma força animal que lhe desperta os sentidos e estimula-a fisicamente. E assim se estendem as armadilhas situadas no limiar do amor e do desejo. A fronteira pode ser tão ténue e indestrinçável. Pelo desejo, perde-se o amor e pelo amor mata-se o desejo. Mas o ser humano vai ser sempre um animal e não sobrevive sem escoar os impulsos, por isso há-de engendrar sempre formas de o fazer, por mais estranhas, disformes e perigosas que sejam. Ciúmes, castidade e morte. Depois dos vermelhos mais vermelhos, dos azuis mais azuis e do negro mais negro que se viram ou hão-de ver, provas de que foi em censura e durante códigos de produção que se foi mais directo ao alvo nas questões do amor e do sexo (os contornos épicos equiparam-nas a um caso de vida ou de morte; a forma e o conteúdo são a mesma coisa; não é o que se diz, é como se diz; “não basta gostar de um filme, é preciso gostar dele pelas razões certas”; etc., etc., etc.), a travessia final para a montanha onde se intersectam as forças criadoras de Jones, O. Selznick, Vidor e o romancista e argumentista Niven Busch, sob o sol abrasador do deserto que quer secar a fonte da vida. É sempre incerto, o que lá se vai passar. É sempre incerto, como é que o público vai reagir. O que nunca será incerto é que é o espelho eterno do tumulto interior do homem, o cúmulo do impressionismo e do romantismo, a realização e demonstração de que o belo é uma invenção nossa e que não há sol ou vendaval que o negue ou o dizime.
[1] "Obra clássica: aquela que pertence quer ao passado quer ao futuro e, mediante cada um de nós, está também no coração do presente” (da descrição não assinada da «Colecção Horizonte - Clássicos») e “Eu não sei o que é um filme clássico” (Tag Gallagher, 2015).
[2] Cineasta nascido em Galveston, no Texas, em 1894, e que aos seis anos assistiu a um enorme ciclone, cujo turbilhão descreveu num artigo de 1935 para a revista Esquire. Filmou também a cena do tornado de O Feiticeiro de Oz. E Ruby Gentry e The Fountainhead, já exibido pelo nosso cineclube em 2016 com apresentação em vídeo do arquitecto José Neves, podem ser descritos como verdadeiras tempestades.
[3] Compositor russo-americano que escreveu umas boas dezenas de bandas-sonoras fabulosas em Hollywood, como as de Rio Bravo, O Rio Vermelho, High Noon, Céu Aberto, Álamo.
domingo, 3 de abril de 2022
Tre piani (2021) de Nanni Moretti
por António Cruz Mendes
Hoje, vamos ver “um Nanni Moretti” diferente daquele que conhecemos melhor. Julgo
que podemos observar, sobretudo nos seus primeiros filmes, um registo quase
documental. De forma alguma o tipo de documentário que se apresenta como uma
apresentação da “realidade tal qual ela é”, mas antes aquele que se revela claramente
como “um discurso sobre”. Em Palombella Rossa, Querido Diário ou Abril, havia uma
personagem-guia, uma espécie de narrador, no qual éramos tentados a ver o próprio
realizador, que nos conduzia através do seu mundo particular, a Itália contemporânea e
a sua realidade política, convidando-nos a conhecer e a partilhar as suas próprias
angústias e perplexidades. Três andares não nos fala de Itália, os seus temas são
universais: as dificuldades da vida em comum, as responsabilidades que resultam da
parentalidade e das consequências das nossas acções. A justiça e a culpa. E nele não
temos sequer uma personagem-âncora em torno da qual se construa uma narrativa,
mas três diferentes histórias, ainda que unidas por temas, um espaço físico e
personagens comuns. Um filme-mosaico, portanto, um complexo de histórias sobre as
quais nenhuma das personagens tem uma perspectiva privilegiada.
Numa entrevista recente, Moretti defendia o seu direito de não fazer apenas comédias.
É certo que Três andares não é uma comédia, tal como também não o eram O quarto
do filho e Minha mãe, melodramas dominados pelo tema da morte. Mas, na verdade,
também nunca entendi como verdadeiras comédias Palombella Rossa, onde Moretti,
na pele de Michele Apiccena, é um ex-dirigente do PCI que, depois de um acidente,
perdeu a memória, ou Querido diário, filme onde ele personifica um realizador de
cinema que, nas palavras de João Lopes, “filma na primeira pessoa, não para afirmar a
verdade da sua visão, antes sublinhando a singularidade do seu ‘eu’, desse lugar a
partir do qual ele adquire os contornos de uma solidão irredutível” (Expresso). De Abril,
poder-se-ia dizer o mesmo. Nesses filmes, o exercício de auto-ironia é por demais
evidente e as situações cómicas apenas disfarçam uma amargura latente.
“Mostrai que mostrais”, pedia Bertold Brecht aos seus actores. E não será, afinal, isso
que Margherita, a realizadora de Minha mãe, um alter ego de Moretti, pretende quando
diz aos seus actores que não precisam de encarnar a sua personagem, mas de “estar
ao seu lado”? Este efeito brechtiano de distanciamento sempre me atraiu nos filmes de
Nanni Moretti e é isso que, antes de mais e na minha opinião, fazia deles, tão
claramente, objectos políticos.
Três andares não é certamente uma comédia, mas não é apenas isso que o destaca
das primeiras obras de Moretti, mas sobretudo a renúncia àquele distanciamento
irónico que se interpunha entre o realizador e a matéria dos seus filmes. Agora, o
espectador é convidado a observar, aparentemente sem filtros, a vida das três famílias
que habitam um prédio burguês, numa cidade qualquer. É claro que já em O quarto do
filho e Minha mãe, Moretti tinha abdicado dos temas explicitamente políticos presentes
nas suas primeiras obras mas, neles, havia ainda um fundo autobiográfico: a primeira,
reflecte a sua angústia diante de uma eventual perda do seu próprio filho, que tinha
então cinco anos; a segunda, tem como pano de fundo a morte da sua mãe. Em Três
andares, Moretti, ele próprio está, por assim dizer, “ausente”. Pela primeira vez, o
realizador adaptou uma história criada por outro, o romancista israelita Eshkol Nevo.
É claro que isto não nos impede de reconhecer em Três andares um certo “ar de
família” que o liga a outros filmes de Nanni Moretti. Desde logo pela sua presença
como intérprete, mas sobretudo pela forma como questiona, sem nos propor respostas
terminantes, os dramas íntimos que habitam a vida interior das suas personagens.
Lucio e a sua cega obsessão; Monica, a sua solidão e os seus medos; Vittorio e a sua
moralidade intolerante; e Dora (a magnífica Margherita Buy), confrontada com o vazio
da sua existência, entre as perdas do marido e do filho Todas elas, apesar e herdadas
do romance de Eshkol Nevo, são personagens bem “morettianas” que procuram, com
passos incertos, uma saída no labirinto dos erros e das dúvidas onde se perderam.
Passada a experiência traumática do fim do PCI e das esperanças de um mundo novo
que ele transportava, da subida ao poder de Berlusconi e do que ele representa, a Itália
parece ter caído numa ordinária e desesperançada “normalidade”, onde até um ataque
xenófobo a um centro de apoio a imigrantes pobres pode caber. Embora os dramas
íntimos não deixem de ocorrer em contextos sociais precisos, a política cedeu-lhes,
então, o protagonismo que teria tido noutros tempos. Quem pode, portanto, condenar
Nanni Moretti por passar da “comédia” ao melodrama? Afinal, a qualidade dos seus
filmes permanece intacta e, no final (um episódio que não se encontra no romance
adaptado), dança-se o tango e todos sorriem.
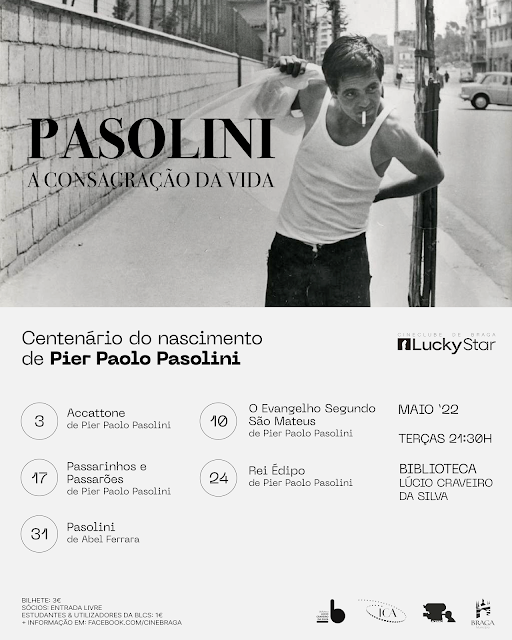



.png)

